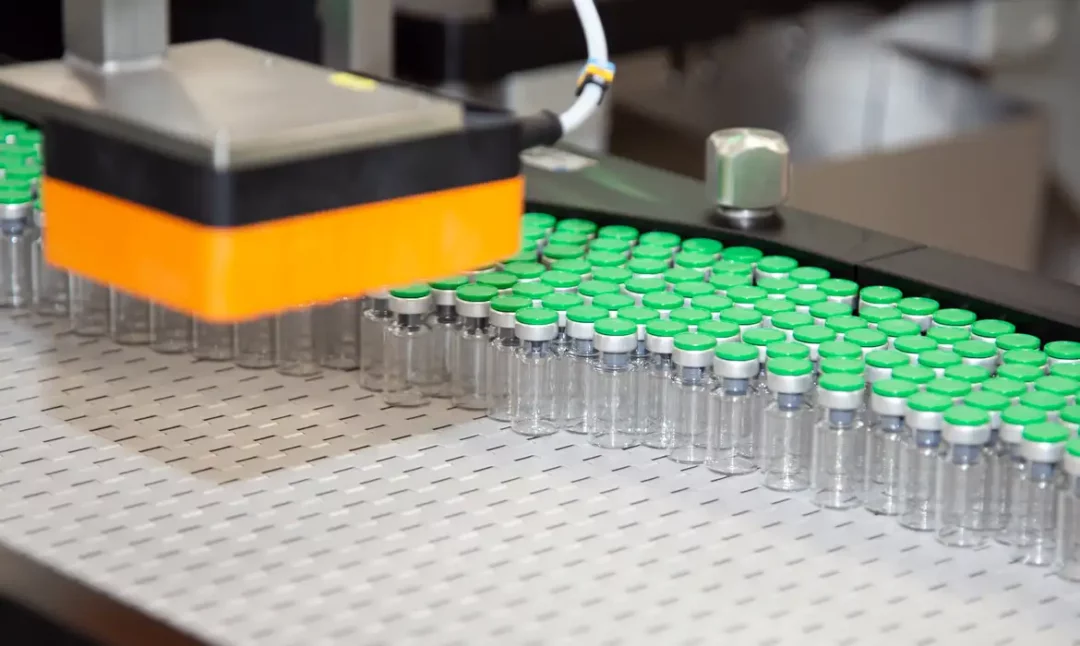Luciano Mattuella (*)
O que alguém nascido no começo dos anos 80 teria a dizer sobre o Woodstock, festival de música e arte acontecido nos idos 1969?
Levei essa pergunta comigo para uma atividade alusiva aos cinquenta anos do Woodstock que a Associação Psicanalítica de Porto Alegre organizou há poucos dias na Feira do Livro de Porto Alegre. Eu dividia a mesa com o colega psicanalista e entusiasta de boa música Robson de Freitas Pereira (que em agosto escreveu, aqui mesmo nesta coluna, sobre os 50 anos do Woodstock) e com o renomado jornalista e crítico musical Juarez Fonseca, homenageado deste ano do Poa Jazz Festival. Qual seria o meu ponto de inserção neste bate-papo, então?
Uma primeira pista veio com a recordação de uma situação de infância – que, cá entre nós, não tenho sequer como afirmar que realmente aconteceu: quando eu era pequeno, alguém entrou na casa da praia da minha família, roubando muitos de nossos pertences. Entre o que foi levado estava a pequena coleção de discos dos meus pais, que não faço ideia por quê não estava guardada aqui em Porto Alegre. Lembro que me intrigava essa predileção do ladrão – deixou eletrodomésticos, mas levou os LP’s. Esta cena é agora importante porque me faz pensar que talvez tenha sido um dos primeiros momentos em que percebi que algo podia ser subtraído dos meus pais – o que tornava aqueles discos ainda mais valiosos. Só tem valor o que pode ser perdido, afinal.
Uma segunda pista: preparando a minha fala para o evento, eu lembrei de como sempre me chamou a atenção a forma como Roger Daltrey canta os versos de My Generation. Aquele leve gaguejar traz algo de muito original para esta canção. É provável que só consigamos falar de nossa própria geração e de nosso próprio tempo gaguejando, tropeçando nas certezas que apenas o distanciamento temporal permite.
Daltrey cantava sobre uma geração que preferia “morrer antes de ficar velha” – o que não necessariamente precisa ser entendido no sentido literal: talvez o que estivesse em jogo fosse o receio de perder a rebeldia de afrontar essas “pessoas que tentam nos botar para b-baixo” (“people try to put us d-down”). O balbuciar como forma de protesto – ou como balbúrdia, para usar os termos em voga. Uma pergunta, então: qual voz a juventude de nossos tempos pode levantar?
O contexto cultural norte-americano dos anos 60, como sabemos, era nefasto. Estava-se em plena guerra fria e um apocalipse nuclear pairava como uma ameaça constante. Em 1963, John F. Kennedy é morto por Lee Harvey Oswald. Em 1968, Martin Luther King é assassinado por James Earl Ray. O tio Sam convoca para o Vietnã jovens americanos mal saídos dos colégios para lutar em uma guerra com motivações delirantes: o medo de que um país ser tomado pelo comunismo pudesse produzir um efeito dominó no mundo. Poucas famílias não tiveram algum de seus filhos chamados nos drafts. Neste cenário, reunir praticamente 500 mil pessoas, como aconteceu no Woodstock, em um evento de música para celebrar a vida foi muito mais do que um evento artístico: foi um ato político.
Ali onde eram convocados à morte nas selvas vietcongues, os jovens americanos responderam com uma frase de resistência: “Make love, not war”, slogan pacifista da contracultura que germinava nos duros solos da época. O que se viu naqueles três dias na cidade de Bethel foi uma juventude em plena experimentação dos seus corpos e seus afetos. A guitarra elétrica de Jimi Hendrix ainda soava os últimos acordes de um dissonante hino americano quando já se tinha uma certeza: o Woodstock havia sido a maior prova de que a arte pode ser uma saída para a barbárie.
Afinal, toda produção artística propõe uma outra versão do mundo, convida a uma realidade diferente daquela em que vivemos – é uma dissonância. Neste sentido, toda arte é carregada de “juventude”: é uma forma de dizer “não” ao instituído que, por vezes, recai sobre o mundo como violência e silenciamento. Parece não ser à toa que justamente os artistas e os professores sejam os primeiros a serem atacados em época de obscurantismo político. Nas palavras irônicas da letra de Vietnam Song, de Country Joe and the Fish: “Put down your books and pick up a gun, we’re gonna have a whole lotta fun” (“Largue seus livros e pegue uma arma, nós nos divertiremos de montão”).
O fervor estético e lisérgico dos jovens no Woodstock fazia figura frente ao fundo de morte anunciada pelo governo americano. Era uma forma de não se resignarem ao lugar de uma estatística nas baixas de guerra: era um modo, portanto, de re-politizar corpos que eram desejados como cadáveres. Politizar, inscrever na pólis, nos laços sociais e nas relações fraternas. O tio Sam não teria a obediência desses sobrinhos corajosos.
Infelizmente, o Brasil também se mostra como um cenário propício para pensarmos estratégias de resistir às demandas de morte. Vivemos sob um governo que puxa o gatilho mais de 80 vezes para matar um de seus cidadãos – ou mesmo apenas uma vez, para dar fim com um tiro de fuzil a uma vida recém começada. Aqui não é o tio Sam que nos convoca para uma guerra do outro lado do mundo, é o próprio tio do WhatsApp que, cheio de ódio, chama para um conflito nas ruas da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa vizinhança. Também aqui nos dizem para largar os livros e pegarmos em armas.
Talvez uma forma de manter algo do Woodstock vivo seja invocá-lo como um espírito, como um estado de ânimo. Não repetir a receita, mas reinventá-la de acordo com o paladar da nossa juventude.
Como fazer frente a um governo que não propõe só a guerra, mas o “amor à guerra”? Somos bem mais do que 500 mil pessoas com a imensa tarefa de resgatar novamente a cultura da barbárie. Re-politizar também os nossos corpos – estar entre amigos, circular pela cidade, cuidarmos de nossa saúde física e mental – parece ser um bom primeiro passo para não nos colocarmos como alvo desse ímpeto necropolítico que contagiou nossa cultura. Mas hoje em dia, talvez, a esperança não venha do rock’n’roll, mas do rap de um Emicida que canta “tudo que nós tem é nós”.
(*) Luciano Mattuella é psicanalista, membro da APPOA.
§§§
As opiniões emitidas nos artigos publicados no espaço de opinião expressam a posição de seu autor e não necessariamente representam o pensamento editorial do Sul21.