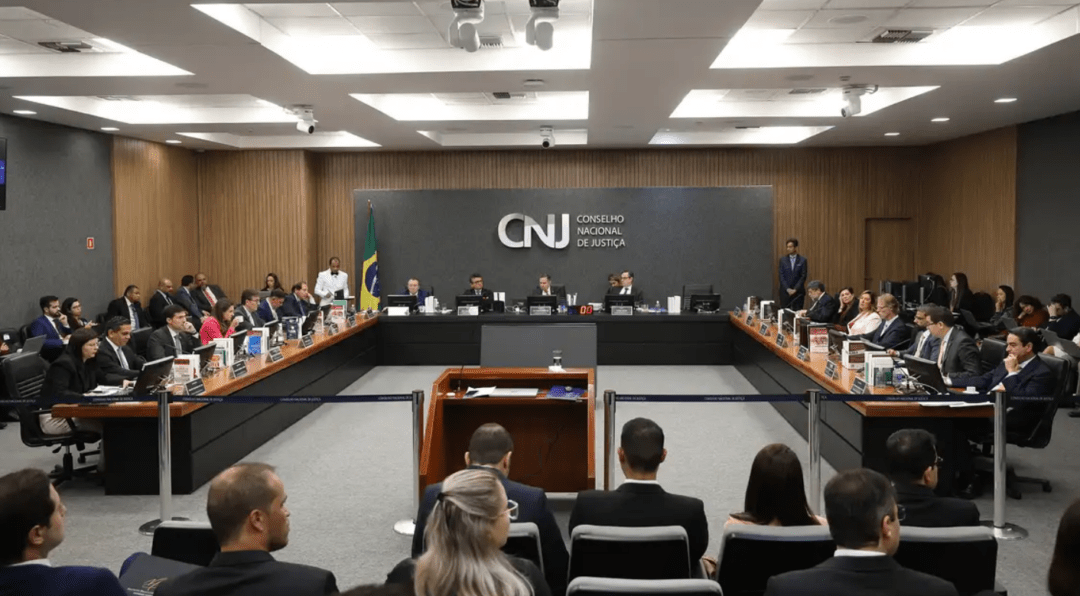José Antônio Severo
O que me lembro do dia 25 de agosto de 1961 foi que amanheci o dia com o firme propósito de passar o fim-de-semana em Novo Hamburgo. Ali morava Ana Juçara, a filha do Dr. Parahym Lustosa, que fora o braço direito de meu pai quando ele foi prefeito da cidade no início da década de 1940 e que, segundo se dizia, me fora prometida ainda no berço, nós dois crianças de leite do alvorecer do baby boom. Jamais suspeitaria que aquela sexta-feira entrasse para a História com h maiúsculo.
Guri dos anos 50, criado nas franquias da Constituição de 1947, não conseguia prever ou avaliar quais seriam os conteúdos ameaçadores daquelas notícias que nos pegaram a todos os alunos do internato que se preparavam para pegar o ônibus para o centro da cidade de Viamão, primeira escala no rumo à gandaia da folga escolar na capital.

A notícia da renúncia de Jânio Quadros não me impressionou demais, não assuntou, pois a gente de minha idade não imaginava que qualquer coisa pudesse acontecer fora da Lei. Assim crescemos. Quando Getúlio Vargas morreu, em 1954, ainda era criança e só me recordava que as aulas foram suspensas. Marcou mais pelo luto oficial (as bandeiras a meio-pau foi o que mais me impressionou) que por outras coisas. Depois veio um vice-presidente, Café Filho, e tudo andou nos conformes da legislação em vigor. Aquelas tropelias todas (11 de Novembro, Aragarças, Jacareacanga etc) não faziam muito sentido às crianças que se criaram ouvindo histórias de combates das revoluções.
Não recordo do clima, mas parece-me que fazia frio no Passo do Vigário, a quatro quilômetros além da cidade, onde ficava a Escola Técnica de Agricultura. Era um colégio técnico, num município isolado, desinteressante para as lideranças estudantis captarem votos. Assim, nosso grêmio estudantil não era intenso em atividades políticas. Víamos o presidente Jânio Quadros como era: um político que contrastava com o padrão do modelo de homem público. Nosso governador, Leonel Brizola, era admirado por nós como um jovem elegante, referenciado como ex-aluno de nossa escola que seguira a carreira de Engenharia, o mesmo objetivo da grande maioria dos alunos que pensavam seguir dali para Agronomia ou para a Politécnica. Nada que pudesse se comparar àquele presidente exótico e histriônico.
“Quando chegamos ao Restaurante Universitário o ambiente fervia”
Chegando a Porto Alegre fui me encontrar com meu amigo Sérgio Monte, que estudava no IPA e se preparava para fazer vestibular para Jornalismo na PUC. Logo que me encontrei com ele, assim que desci na capital, percebi que as coisas não estavam tão calmas quanto a minha escassa percepção política indicava. Quando chegamos ao Restaurante Universitário o ambiente fervia. Foi ali que, pela primeira vez, ouvi nomes que até hoje ecoam pelo Brasil inteiro: Marco Aurélio (Garcia), Flávio Koutzii, Carlos Araújo e, no primeiro momento, porque usava da palavra inflamadamente, Fúlvio Petracco. Ele era o presidente da Federação dos Estudantes da Universidade do Rio Grande do Sul (ainda não tinha o F de federal). Os universitários organizavam um protesto e denunciavam um golpe de estado.

No dia seguinte acordei-me como em todo o sábado de “saída”, como se chamava a licença de passeio no internato, e me fui para Novo Hamburgo. Lá eu não vi quase nada da tempestade que se formava no poente. Passei o dia elevado pelo charme, a graça, a beleza e a inteligência viva e penetrante de Ana Juçara. Se estivesse pensando alguma coisa mais cívica seria que o Brasil (e o mundo) era nosso, dela, meu e dos amigos de nossa idade que passaram o fim de semana conosco.
Um único sinal de que me lembro vagamente foi que o pai dela, o Dr. Parahym, falara alguma coisa da crise. Não recordo se ele já aventava algo pior do que uma sucessão tumultuada (o vice presidente estava a dias de viagem do Brasil, em visita à China, então um lugar muito distante). Ele era um político importante e podia estar formulando. Bem podia ser uma especulação sobre o futuro governo, pois Jango Goulart era da coligação getulista que poderia levar seu partido, o PSD, a voltar ao poder, ocupado então pela rival UDN. Também esteve lá seu irmão, Caio Lustosa, um jovem advogado, pouco mais velho que nós, considerado um tanto excêntrico por ser comunista, mas que era uma pessoa muito querida da gurizada. Lembrava-me de Caio ainda garoto nos ensinando as marchinhas do carnaval em 1950, as primeiras que aprendi e até hoje ainda sei decor. Assim começou tudo.

Domingo à noite, ali por 20h, depois do jantar, fui ao abrigo dos ônibus em Novo Hamburgo, peguei um coletivo da Central para voltar a Porto Alegre, pensando pegar no dia seguinte o ônibus para Viamão a tempo de pegar as aulas da manhã. Duas horas depois, na capital, subi a Borges a pé até a Riachuelo, donde infleti à direita, voltando para casa, o apartamento de minha irmã Hieldis, nesta rua, logo depois da Caldas Júnior. Quando cruzava em frente à Biblioteca Pública, olhando à esquerda vi uma boa quantidade de gente na Praça da Matriz. Fui dar uma olhada. Aqui começa a segunda parte de minha participação na Legalidade.
“Uma imagem preocupante: toda a frente do Palácio Piratini fortificada”
Vendo gente na praça, do monumento a Júlio de Castilhos para cima, consultei meu relógio e concluí que dava tempo de dar uma “bispada”, antes de voltar à casa. Não era uma multidão, mas umas centenas de homens, pois não me lembro de mulheres. Pelo menos nenhuma delas me chamou atenção para que me lembrasse dela ainda hoje. Grupinhos falando entre si, pessoas avulsas que nem eu, mas uma imagem preocupante: toda a frente do Palácio Piratini fortificada por uma amurada de sacos de areia. Uma trincheira, na verdade. Epa!
Não lembro quanto frio fazia, mas me recordo claramente dos brigadianos vestindo sobretudos na parte externa da trincheira e seus ponches de cavalaria no lado de dentro. Na praça havia gente, mas não tanto quanto depois. Ou seja: ainda não era a multidão que formou o escudo humano contra o bombardeio aéreo na manhã seguinte. Reuniam-se em pequenos grupos de conversa. Quando me vi ao lado de um jovem mais ou menos de minha idade consegui puxar assunto para saber o que estava acontecendo. Então me inteirei dos fatos.

O rapaz me disse que se falava que Jânio Quadros não renunciara, mas fora deposto. (De fato, Jânio estava, segundo o noticiário, preso dentro de um avião militar na Base Aérea de Cumbica, em São Paulo – atual aeroporto de Guarulhos); Leonel Brizola convidara o ex-presidente a vir para o Rio Grande do Sul o que lhe colocava na posição de inimigo dos golpistas; por tudo isto, esperava-se uma ação do Exército para depor e prender o governador; aquele dispositivo indicava que haveria luta. Lembro que pensei: “chegou minha vez”, lembrando que todas as gerações de minha família, pai, tios, avós, bisavós, assim desde que o Rio Grande era Rio Grande, estiveram em alguma guerra. Esta seria a nossa.
Meu interlocutor também não sabia muito nem integrava qualquer daqueles grupos. Disse-me que era estudante, primeiro ano de Medicina. Estava ali que nem eu, de peru. Volta e meia alguém entrava ou saia do entrincheiramento, até que um desses provocou um alvoroço. Assuntando, ficamos sabendo, primeiro, que aquela gente ou a maior parte deles estavam ali como observadores. Meu amigo, mais versado, disse-me que eram de sindicatos ou lideranças estudantis esperando informações. Naquele tempo não havia celular, nem mesmo um telefone público por perto da Praça da Matriz. Aos poucos foram saindo para levar a notícia: alguém avisara o Palácio de que havia movimentação no quartel do 9º Regimento de Reconhecimento Mecanizado, na Serraria, subúrbio distante onde ficava a unidade de mecanizada (blindados) de Porto Alegre. Ou seja, os temidos tanques estavam para sair, o sinal de golpe militar em qualquer republiqueta latino-americana.
Meu companheiro e eu ficamos sentados num dos bancos da praça de frente para o Palácio, só os dois, pois estávamos petrificados ou curiosos, não recordo, e como nunca mais depois daquela noite voltei a encontrá-lo nem soube seu nome completo, até agora não tenho como checar qual fora efetivamente nossa reação. A verdade é que ficamos ali parados, só os dois, observados pelas centenas de olhos que observavam a frente à procura do inimigo.
“Havia um estado de empolgação, até de certa euforia diante da perspectiva do combate”
Éramos suspeitos. Dois garotões na idade de sentar praça, cabelo escovinha (no rigor da moda) bem que poderiam ser bombeiros do Exército. Logo veio um oficial, um capitão, falar conosco. Entre desconfiado e enérgico, recordo bem, convidou-nos a entrar. Acho que ele queria nos prender como espiões. Fomos conduzidos ao pátio interno e ali mesmo interrogados, creio que por algum policial a paisana. Penso que esse senhor, vendo nossa documentação de estudantes, nossa idade, nossa ingenuidade e segurança que estávamos falando a verdade. Os militares ficaram desarmados (no sentido figurado, pois portavam revólveres e submetralhadoras). Um tanto desconcertados os defensores não tiveram alternativa a não ser nos convidar a nos juntarmos a eles. Sem medir consequências, ambos prontamente aceitamos. Ali começava minha participação na grande batalha que se esperava e que nestes dias comemoramos o desfecho pacífico.

Alheios ao perigo que acabáramos de passar (imagine-se igual suspeita 10 anos depois: teríamos de jurar nossa inocência no pau-de-arara) fomos encaminhados para uma ala do Palácio onde se articulava um grupamento de combate. Ali havia um estado de empolgação, até de certa euforia diante da perspectiva do combate. As salas repletas de gente. Não posso ainda hoje precisar quantos. Só dava para ver que eram homens, a maior parte de meia idade para cima, bem vestidos, quase todos com revólveres ou parabelas (naquele tempo chamava-se de pistola armas de tiro único por carregados pela culatra). Num canto, quase como se fossem intrusos, um grupo de brigadianos armados de mosquetões, vendo-se alguns fuzis metralhadoras de tripé fixados no cano e as caixas de munições. As janelas estavam protegidas por sacos de areia, com abertura em seteiras. Pude dar uma rápida olhada em nosso campo de batalha enquanto um capitão que parecia ser o comandante operacional dos voluntários civis, elegantemente fardado com uniforme de passeio, diferentemente dos demais que vestiam fardas de campanha.
Lembro bem de minha primeira impressão. Não conhecia ninguém, embora pudesse perceber que eram homens proeminentes. Naquele tempo, quando televisão ainda era um objeto raro, as imagens dos poderosos eram desconhecidas do grande público. Só apareciam nos jornais e, assim mesmo, à distância, em fotos precárias. (Hoje sei quem eram, vendo fotos antigas. Mas estou narrando com as impressões do momento. Um jovem estudante do interior não tinha elementos para reconhecer essas pessoas). Identifiquei só um deles, radialista famoso e deputado federal do PTB, o poeta e tradicionalista Lauro Rodrigues, amigo de meu primo Neto Saldanha. Quanto aos demais, só dava para ver que se tratava de figurões de República.

Fui chamado à atenção pelo capitão que indicava a mim e a meu parceiro a porta dos fundos, mandando que nos apresentássemos a uma pessoa no pátio interno, descendo as escadarias do jardim. Disse que se improvisava um hospital de sangue para socorrer os feridos. Nós seríamos padioleiros. Foi uma ducha de água fria. “Padioleiro”! Pensei: como me justificaria a meus maiores que estiveram em 32, 30, 24, 23, 93, Paraguai, Monte Caseros, Farroupilha, Cisplatina, Artigas, e tantas outras guerras desde as correrias de Pinto Bandeira na invasão espanhola? É verdade que ainda não lera “Adeus às Armas” em que Ernest Hemingway dignificou o heroísmo de um padioleiro resgatando feridos sob fogo inimigo.
Foi chegando ao pátio interno que me apareceu a tábua de salvação: no jardim em frente à Ala Residencial, entre um grupo que conversava, vi o advogado (hoje pecuarista) Avelar Teixeira, então noivo de sua mulher Eneida Morais (descendente do brummer maragato Josef Möritz – ver o livro “Patrulha dos Sete João”, de Euclides Torres, Já Editores), conterrânea de Caçapava do Sul e de família íntima da minha, diretor do Departamento Aeroviário do Estado (o governador Brizola tinha muitos jovens em cargos chave de seu governo). Mal me viu, veio em minha direção, espantado, falando em tom repreensivo “guri, o que tu estás fazendo aqui?”, mandando que eu voltasse para casa. Revelei-lhe minha frustração. Já meu camarada parecia satisfeito com a designação para um posto adequado a um estudante de Medicina. Seguiu em frente. Foi a última vez que nos vimos.
“Botei a mão no flamante .38 de cano médio, galvanizado, ainda umedecido pelo lubrificante”
Avelar me tomou pelo braço e, ainda me recriminando, levou-me por uma porta no prédio anexo, a Casa Militar. Ele falou com um oficial, entramos por uma antessala, falou com outro militar e entrou noutro escritório. Voltando nas mãos duas caixas. Me as entregou ainda com a cara fechada, desaprovativo, recomendando: “toma! Se te perguntarem diga que és filho do coronel Fulano”. Uma dessas era um estojo da fábrica Taurus; a outra da CBC, a Companhia Brasileira de Cartuchos. Abri a caixa de papelão e tirei lá de dentro um invólucro transparente. Rasguei o plástico e botei a mão no flamante .38 de cano médio, galvanizado, ainda umedecido pelo lubrificante. Zerinho. Acariciei a máquina, abri a caixa de balas e carreguei o tambor com seis projéteis. Botei na cintura contra a barriga (não tinha coldre), preso pela cinta e vi que o óleo manchava a camisa. “Que nada!”.

Nesse meio tempo as coisas mudaram. Voltando à sala para mostrar a arma ao comandante e pedir minha reintegração ao grupo de combatentes, esperava ter que dar explicações, porém não precisei gastar uma gota de minha saliva para tecer a história que tinha na ponta da língua. O oficial simplesmente mandou que eu me juntasse aos demais e foi se reunir aos seus colegas que estavam como se fossem excluídos, confinados a um canto. O assunto era a movimentação de tropas do Exército. Ninguém duvidava que tais forças convergiriam sobre nós. Recordo que rapidamente aquele clima de euforia se desfazia pela chegada da dura realidade. Alguém comentou, olhando o ambiente: se uma granada explodir aqui dentro, como se escapar? Não houve resposta. A cobra iria fumar.
Era pouco passado das duas da madrugada quando se deu o alvoroço. A sala foi invadida pelo barulho de motores, dezenas deles rodeando a Praça da Matriz. Pela janela pudemos ver que eram viaturas da Brigada Militar (soubemos que saíam da garagem da corporação na Rua Jerônimo Coelho, a 100 metros dali). Soldados armados desceram rapidamente dos caminhões e entravam no Palácio pelas três portas, dava para ver. Nossa posição foi invadida por um grande número desses homens, que, orientados por seus chefes (certamente oficiais e sargentos), iam se posicionando nas janelas, assestando metralhadoras nos lugares apropriados, enquanto a guarnição antiga substituída se retirava da posição. Sem muita conversa, um major em fardamento de campanha, com uma automática Royal (Mauser fabricada na Espanha) a tiracolo ia nos retirando dali, enquanto seus homens espalhavam cunhetes de balas de mosquetões, pentes de projéteis para fuzis metralhadoras Mauser e submetralhadoras INA, fitas de munição para as metralhadoras de tripé .30. Agora sim o ambiente tomava cara de praça de guerra. Atônitos fomos obedecendo a ordem e ficamos agrupados numa saleta dos fundos, já distantes da primeira linha de fogo.

Parece que agora a coisa viria. Alguém disse que nossas avançadas assinalavam uma coluna de tanques vencendo a lomba da Tristeza, prestes a entrar na Avenida Praia de Belas. Outro revelou que as praças que ocuparam as muralhas externas eram tropas de infantaria do Batalhão de Metralhadoras de Montenegro, a unidade de maior poder de fogo da Brigada Militar, mais adequada para o choque frontal que a Cavalaria da guarda palaciana, o Regimento Bento Gonçalves. Outro oficial da Casa Militar entrou convidando a todos para se retirarem. Dizia que um ataque era iminente, que o Exército deveria usar armas poderosas, que ali não era lugar para civis. Chegou mesmo a propor que se aproveitasse aqueles últimos momentos para abandonar o Piratini, reconhecendo que todos já haviam dado sua contribuição, demonstrado sua coragem, enfim, que a gente ali só atrapalhava. Foi um zunzum, mas ninguém recuou. Ele então propôs que nos juntássemos aos outros paisanos nos porões, que eram áreas mais protegidas, onde já funcionava a estação de rádio. Alguns acataram a ordem, mas um e outro retrucaram que permaneceríamos ali para lavrar com sangue nosso protesto. E mais: reclamou que não aceitávamos nossa exclusão da primeira linha e dizendo que iria falar com o governador. Era gente de peso. Formou-se uma comissão que saiu acompanhada pelo oficial.
“Dava para ver a adrenalina se apossando dos soldados”
O primeiro a voltar contou que os blindados aproximavam-se dos quartéis da Brigada na Praia de Belas. Certamente essas unidades seriam as primeiras atacadas. Em silêncio ficamos a espera dos primeiros estampidos enquanto nossa comissão negociava lá em cima (o governador, dizia-se, estava no primeiro andar, no seu gabinete). O tempo foi passando e nada de iniciar-se o tiroteio. Mais um quarto de hora ou algo assim entramos de novo em expectativa, alertados pelo crescente ruído de motores que vinha dos fundos, lá de baixo, da rua. Alguém falou: “os tanques”. De fato, o barulho foi aumentando. Eram dezenas de canos de descarga rugindo, muitos explodindo em pós combustão, produzindo aqueles estouros típicos do ciclo Otto exaurido. Dava para ver a adrenalina se apossando dos soldados ali perto, enquanto nós nos encolhíamos temerosos em nosso cantinho, como intrusos.

Finalmente regressou a comissão, acompanhada pelo coronel, com ar triunfante, dizendo que conquistáramos um lugar nas trincheiras. Enquanto a coluna blindada passava a duas quadras dali, pela Avenida Washington Luís, que era a via ribeirinha, um dos negociadores contava que os blindados tinham evitado a Praia de Belas, avançando pela Avenida Getúlio Vargas, certamente para não fazer provocação ao Terceiro Batalhão de Caçadores, que bloqueava o acesso pela beira do rio. Era um sinal positivo, interpretado como se o Exército estivesse com medo da gente. Enquanto isto, o oficial da Casa Militar, já com uma metralhadora INA à meia espalda, conversava com o comandante militar da posição. Novo sinal da prontidão: caminhões da Secretaria da Agricultura entraram na praça e se posicionaram em frente às três entradas do Palácio, bloqueando os dois portões e o acesso pelo lado da Catedral Metropolitana. Eram máquinas gigantescas, carros pesados, Acklo, de fabricação inglesa, os maiores existentes no Estado. Vinham carregados com sacos de areia. Rapidamente soldados desparafusaram suas rodas para impedir movimento. Por ali um tanque não entraria. No meu canto, em silêncio, pois não queria me denunciar como joão ninguém (achava que a história do filho do coronel era fraca), já estava arrependido de ter ficado quieto na hora em que chamaram para os porões. Paciência, agora já era tarde. Conferi o tambor do meu Taurus e fiquei aguardando os acontecimentos.
Por fim, voltando de uma conferência com o comandante da ala, a comissão de notáveis e o oficial da Casa Militar comunicaram aos demais que fora definida nossa participação no combate. Uma seteira, a mais a esquerda da última janela, ficaria reservada para os voluntários civis. A ordem era nos formarmos em fila rente à parede e por ali acessarmos a posição de tiro, pois cabia só um de cada vez. O líder do grupo determinou: “cada um, na sua vez, dispara seis tiros e se retira dando lugar ao seguinte, voltando ao fim da bicha para remuniciar sua arma”. No mundo dos políticos sempre há um senão, aprendi ali. Alguém contestou: “como seis tiros? Minha pistola dispara 15 de cada pente”. Outro mais também acrescentou que sua arma era de onze tiros; alguém comentou que tinha um Colt de quatro tiros, calibre 45, cujos quatro valiam mais que seis de 38, pedindo para recarregar na posição de fogo. Poucos estavam que nem eu armados com os proletários 38 nacionais. A maior parte trouxera suas armas pessoais, verdadeiras joias, das melhores procedências, feitas pelos mais renomados armeiros da Europa e dos Estados Unidos. Finalmente consertou-se que a unidade de fogo seria a capacidade da arma: quem tivesse automática queimaria seus projéteis de rajada. Quem tivesse revólver, um tambor de contínuo. A organização da fila não deu problema, pois no setor público é pacífico seguir-se a ordem de precedência. Nesse conceito, fiquei por último, pois não tinha cargo nem representava nenhuma entidade. Lembro que não me abati com isto, mas devo ter pensado: “quando chegar minha vez a guerra já terá acabado”.

É preciso dizer que aquilo não era uma festa. Assim como lhes conto passa a visão irresponsável de um garotão que nem eu. Havia muita tensão. Todos sabiam que não iríamos dançar num baile. Ali era um lugar de sangue e morte iminente. Alguns sabiam o que nos esperava, pessoas que tinham passado pelo CPOR (Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Exército) ou que tinham servido nas fileiras, conhecendo o efeito dos armamentos pesados que nos assediariam quando se iniciasse o assalto. O nervosismo crescia minuto a minuto, para não dizer que era o medo mesmo que nos gelava a espinha. Os militares também se mostravam tensos, remexendo suas armas, conferindo as munições, checando os mecanismos das automáticas e dos petrechos pesados.
“A presença de Brizola infundiu confiança em todos”
Um corte chamou nossa atenção ao se abrir a grande porta de metal que comunicava com o passadiço, com um coronel à frente, enquanto a guarnição entrava em forma em continência ao governador Leonel Brizola, que entrava acompanhado de seu séquito. Ele vestia-se muito elegante num terno escuro, gravata, bem alinhado, com uma submetralhadora INA a tiracolo. Cumprimentou o comandante, fez uma saudação protocolar com a cabeça aos soldados e oficiais, aproximando-se de nosso grupo para cumprimentos menos formais, pois se via que ali tinha muitos amigos e conhecidos. Sua presença infundiu confiança em todos, como se ele estivesse dizendo que estava conosco, que morreríamos juntos. Foi um momento emocionante.

Eu também não reconhecia seus acompanhantes. Lembro-me de ter visto Henrique Halpern, o Ferrugem, presidente da FUGE (Federação Estudantil Gaúcha de Esportes), de que meu irmão Rivadávia Severo era secretário-geral e que, dois anos depois, organizaram a Universíade 63, a única competição de âmbito mundial até hoje realizada em Porto Alegre. Também vinha junto o fotógrafo da Última Hora, Assis Hoffmann, já então o mais famoso do Rio Grande do Sul, que, anos depois, foi meu parceiro na imprensa, pois formamos dupla repórter/fotógrafo n’O Estado de S. Paulo, Realidade, Veja e, já na década de 1970, foi o editor de fotografia da Folha da Manhã, quando eu era editor-chefe desse jornal da Caldas Júnior. Até então não nos conhecíamos, mas eu sabia quem ele era por ser confrade de meu irmão Riva, repórter da Folha da Tarde Esportiva.
Diziam os mais velhos que o pior da batalha não é a luta, mas a espera. O silêncio era enervante. A praça à frente estava vazia, certamente pela ação de policiais que impediriam a entrada de civis. O silêncio foi quebrado quase ao amanhecer quando correu o boato de que a Brigada decifrara o código de uma mensagem pela qual o comando da Aeronáutica dava ordens à Base Aérea de Gravataí (naquela época ainda chamavam assim) para bombardear o Palácio. Ataque aéreo? A gente se sentiu traído pela deslealdade de nossos antagonistas: esperava-se uma luta justa homem a homem, frente a frente, e agora eles lançam mão dessa maldade para nos reduzir a cinzas antes que pudéssemos sequer dar-lhes um tiro de resposta. Ficou angustiante.
Amanhecia quando se anunciou que o governador faria um pronunciamento pela rede radiofônica, já denominada de Cadeia da Legalidade. Sua fala foi patética. O texto era heróico e decidido, mas soava a nossos ouvidos como uma despedida. Apertei a coronha do Taurus, apurando a audição, tentando captar o zumbido dos jatos que nos abateriam. Foi muito emocionante. Alguém falou que o arcebispo metropolitano, Dom Vicente Scherer, viera do Palácio Episcopal, um prédio lindeiro ao Palácio Piratini, e que havia se postado no terraço, sentado numa cadeira, junto com a guarnição das metralhadoras .50 da Brigada que deveriam ser nossa única defesa anti-aérea.
“Eu esperava ver um banho de sangue quando as bombas começassem a explodir”
A fala do governador acordou a cidade. Pareceu-me que ninguém dormiu em Porto Alegre. Brizola ainda falava quando as pessoas já chegavam à na praça, a esta altura liberada a quem quisesse vir nos apoiar. Homens, mulheres, crianças foram entrando. A multidão engrossava. Apareceram grupos com faixas, certamente sindicalistas e estudantes organizados. Milhares de pessoas. Ali de dentro eu esperava ver um banho de sangue quando as bombas começassem a explodir. Havia até gaudérios pilchados dos Centros de Tradições Gaúchas. Lembro de um velho xiru que aparece em fotos até hoje reproduzidas, armado de lança, bem debaixo de nossas janelas. Não ouvi pessoalmente, mas alguém ali falou que o velho homem desafiava, brandindo seu dardo: “que venham os jatos!”

Não vi a chegada nem a saída do comandante do III Exército, general Machado Lopes, que veio ao palácio dizer que a força federal do Estado apoiava a Constituição, ou seja, a posse do vice-presidente João Goulart, ainda no Exterior, como novo chefe da Nação. Lá dentro, a guarnição da Brigada, abrindo espaço para que o grupamento civil pudesse chegar às janelas para ver lá fora. Recordo-me do povo abanando para nós, das belas meninas que me lançavam beijos. Em poucos minutos me converti de um gurizão da Campanha assustado em herói de Hollywood. Se tivesse um telefone, teria ligado para Ana Juçara.
A fome, antes sumida, agora batia. Na madrugada garçons do palácio e taifeiros da Brigada passavam com sanduíches e refrigerantes, Pepsi Cola. Dizia-se que o comendador Heitor Pires, dono da fábrica, mandara trazer os lanches. Era hora de almoço. Com a paz segura, o pessoal começou a sair, dizendo que iríamos em casa almoçar. Isto é que é guerra. A certa altura, fiz o mesmo: escondi meu revólver sob o paletó e peguei o caminho da rua, saindo pela entrada lateral, ao lado da Catedral. A pé, segui pela Duque de Caxias, desci a rua de Bragança (assim ainda se chamada a Marechal Floriano), peguei a Lima e Silva e fui à procura da boia, na pensão da JUC (Juventude Universitária Católica), na esquina de João Afonso. Ali morava meu irmão mais velho, Alberto, quintanista de Engenharia. Ele me recebeu apreensivo. Minha irmã já telefonara, procurando me localizar, pois eu não aparecera para dormir nem dera notícias. Como resposta, abri o casaco e lhe mostrei o Taurus.
Escrevi este texto atendendo à proposta de responder de pronto à pergunta de onde você estava? Só consultei o livro “Porto Alegre, agosto”, de Rafael Guimaraes, que rememora a vida na cidade naqueles dias. Espero não ter cometido muitos erros. Entretanto, não resisto a montar um cenário: que teria acontecido se o general Machado Lopes decidisse atacar o Palácio para depor Leonel Brizola, como mandavam seus chefes em Brasília? Vou especular.
“O plano era bloquear as ruas que dão acesso ao palácio”
Em 1983 durante um almoço na fábrica Marcopolo, em Caxias, com o Estado Maior da Brigada, conheci um oficial que participou desses acontecimentos. Em 1961, aspirante recém saído da Academia, servia num quartel da Beira Rio. Relembrando, disse: “Porto Alegre iria virar uma Beirute” (estava no auge a guerra civil libanesa). Segundo ele, havia um plano para conter o avanço do Exército. Era formidável.

Para impedir o avanço dos caros de combate, o plano era bloquear as ruas que dão acesso ao palácio (Ladeira, Riachuelo/Caldas Júnior, Jerônimo Coelho, Duque, Fernando Machado, Demétrio Ribeiro e outras que não me lembro). As vias seriam entulhadas por veículos. Havia uma centena de ônibus nas garagens, com motoristas a postos, caminhões nas transportadoras e bondes na Carris prontos a serem levados e abandonados nesses locais, entulhando as ruas, impedindo a passagem. Também os carros particulares (nesse tempo quase não havia garagens nos prédios) que estivessem dormindo nas ruas entrariam no dispositivo.
Os tanques não teriam condições de evoluir. Os pequenos Stuart M3, velhos carros de antes da II Guerra Mundial, não são armas ofensivas, mas carros blindados de reconhecimento. Seu poder de fogo visa mais a defesa do veículo do que seu uso ofensivo. Mesmo que fossem novos, esses carros não teriam força para desimpedir a rua, muito menos para passar por cima da barreira de grandes veículos que nem ônibus e caminhões. No entanto, eram velhos e quase inúteis. Segundo se constatou depois, das trinta unidades que saíram da Serraria, 10 ficaram no caminho e tiveram de ser rebocadas de volta ao quartel.
A infantaria do Exército teria de chegar caminhando. No caminho se encontrariam com os grupos de combate da Brigada, com força de pelotão, espalhados pelos edifícios e casas, fustigando incessantemente. É a guerra casa a casa. Mesmo usando rojões, lança-granadas e outras armas poderosas, o avanço seria penoso, lento. A experiência da II Guerra Mundial demonstrava que levariam semanas para tomar a cidade. Mesmo com armamento inferior, uma força disciplinada e decidida poderia conter um Exército bem equipado. Teriam de destruir prédios, incendiar casas, um morticínio. Levariam semanas para atingir a Praça da Matriz. Um Gueto de Varsóvia.
O general Machado Lopes deve ter concluído que essa operação era impossível. Militarmente falando, não dispunha de tropas treinadas nem armamento para guerra urbana; psicologicamente, seu exército estava desmobilizado, se não hostil a essa manobra; politicamente, uma ofensiva seria paralisada em poucas horas. Imagine-se o horror que isto causaria em todo o País. O melhor seria conseguir uma solução política. Foi o que ele fez.

Sua única possibilidade de cumprir a ordem era obrigar Brizola a se render pelo medo. Este parece ter sido seu primeiro movimento: mobilizou os tanques e ameaçou com a Força Aérea. Aí está outro ponto essencial: os aviões poderiam chegar até o palácio. Entretanto, não se pode acreditar que passassem de vôos rasantes intimidantes. Atirar bombas dentro de uma cidade amiga, muito improvável. Em 1954 a Força Aérea Argentina metralhou a Casa Rosada, mas não soltou nenhuma bomba explosiva; 12 anos depois a Força Aérea Chilena atacou o Palácio de La Moneda, mas também só usou metralhadoras. Isto que ambos eram prédios localizados frente a grandes praças abertas e cercados por edifícios públicos. Em Porto Alegre a situação era diferente. A localização do Palácio Piratini não facilitaria a missão dos pilotos.
“A cidade se incendiou. Todo o mundo queria lutar contra os golpistas”
Restam os aviões. Qual seria o quadro na Base Aérea? Conta a lenda que os sargentos inutilizaram os aviões e prenderam os pilotos. Esta versão hoje é contestada em parte. A base era equipada com os aviões mais poderosos da América do Sul naqueles tempos, iguais aos que atacaram a Casa Rosada de Juan Domingo Perón sete anos antes. Entretanto, os Gloster Meteor eram aparelhos desprovidos de equipamentos eletrônicos como hoje, que permitem os tais “bombardeiros cirúrgicos”, que nos acostumamos a ver nas guerras modernas. O piloto, para atacar, tinha de fazer a mira no olho, conduzindo a aeronave no pé e na mão, como se diz na aviação, e disparar no dedo. A precisão era mínima. Mesmo só metralhando seu alvo, era inevitável que projéteis atingissem a Catedral, o Theatro São Pedro e, pior, prédios residenciais das redondezas. Lembre-se que em Buenos Aires durante muitos anos os buracos de balas nos prédios da Plaza de Mayo ainda eram atração turística. Pode-se, então, especular que seria um voo de intimidação. A mensagem, ordenando o ataque poderia ter sido codificada de forma que pudesse ser facilmente decifrada, como foi, com objetivo de assustar Brizola e os defensores do Palácio. Entretanto, nem isto foi realizado. Neste caso o levante dos sargentos da Base pode ter impedido essa revoada. A verdade é que os pilotos foram embora diretamente, sem passar pela cidade. Neste caso, a melhor explicação é que a Aeronáutica deve ter mandado tirar preventivamente seus aviões do alcance dos canhões do Exército, que poderia bombardeá-los. Àquela altura os ministros da Junta já sabiam que Machado Lopes vacilava ou, mesmo, que já tinha se bandeado para a legalidade.

Depois disso a cidade se incendiou. Todo o mundo queria lutar contra os golpistas. Alistei-me no Mata-Borrão, participei de algumas passeatas, vi os dias passarem até a vida se normalizar e eu voltar ao internato para completar meus estudos. Certamente não foi muito do ponto de vista militar, mas nosso grupamento combatente criou um fato político que contribuiu decisivamente para que o país respirasse por mais alguns poucos anos o ar das garantias democráticas.
Hoje me vejo naqueles momentos como um jovem temerário, um tanto irresponsável, que foi parar ali por um acaso. Fui para dentro do palácio suspeito de espionagem e me incorporei à sua defesa sem medir consequências. Não posso negar que, com isto, lutei minha guerra, embora não fosse tão épica e movimentada quanto a de meus ancestrais. É uma memória que não repito; perdeu-se no tempo. Só às vezes quando vou a Caçapava e vejo o velho Taurus que me lembro. E aí, parafraseando um velho gaúcho numa entrevista ao CooJornal sobre sua participação na Revolução de 30, digo para mim mesmo, empunhando a peça: “Com este revólver botei o João Goulart no governo”.