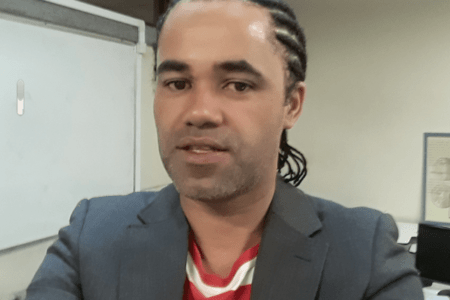
A Astronomia entrou na vida de Alan Alves Brito quando ele tinha 8 anos. Com essa idade, morando no interior da Bahia, ele decidiu que seria cientista e astrônomo. Vindo de uma família extremamente pobre e sempre estudando em escolas públicas, Alan graduou-se em Física, fez mestrado e doutorado em Astrofísica Estelar, na Universidade de São Paulo (USP) e pós-doutorado no Chile e na Austrália. Retornou ao Brasil em 2014 para assumir, por concurso público, o cargo de professor e pesquisador no Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde também é, hoje, diretor do Observatório Astronômico.
“Sempre me foi dito, ao longo da minha trajetória, que a ciência não era o meu lugar. Como sou teimoso, aqui estou”, diz Alan que, além de seu trabalho como professor e pesquisador em Astrofísica Estelar, gestão e divulgação de Física e Astronomia, preocupa-se também com as questões étnico-raciais, de gênero e suas intersecções nas ciências. Entre outros projetos, Alan Alves Brito desenvolve há três anos, com a Comunidade Quilombola Morada da Paz, o projeto Akotirene Kilombo, um trabalho que busca promover e empoderamento de meninas e meninos negros e diálogo intercultural entre as ciências e outras cosmologias racializadas.
Em entrevista ao Sul21, o astrofísico Alan Alves Brito fala sobre sua trajetória e sobre a presença estrutural do racismo na sociedade brasileira, na universidade e na comunidade científica. Além de estudar a composição química das estrelas, o professor de Física da UFRGS também está preocupado em investigar a composição do racismo e suas diversas manifestações na sociedade e na Ciência.
“O racismo epistêmico, que desapropria particularmente corpos negros do lugar central de exercício de pensamento, é, talvez, umas das formas mais perversas do racismo no Brasil e no mundo, basilar na construção do conceito moderno e contemporâneo de ciência. A dimensão do racismo na sociedade brasileira é aguda, profunda, visceral. Ele é subjetivo, institucional e estrutural. Não só na Universidade, mas como em outras instituições de poder”, afirma o pesquisador.
Para o físico, seu trabalho como cientista e professor não tem como não levar isso em conta:
“Com toda a minha trajetória, não posso fazer Astrofísica, uma das minhas grandes paixões, apenas olhando para as estrelas. É preciso olhar à minha volta, para os meus. E fico muito feliz que a Astrofísica me permita fazer tudo isso, unir mundos que aparentemente estão apartados. Não estão. A Astrofísica me dá uma responsabilidade cosmológica e a ciência é uma construção coletiva, carregada (ou pelo menos deveria ser) de humanidade”.
Sul21: Qual é, na sua avaliação, a dimensão do racismo na sociedade brasileira e como ele se expressa dentro da universidade?
Alan Alves Brito: Do ponto de vista de seu processo civilizatório, o Brasil é um país complexo historicamente e brutalmente desigual, racista. A questão racial, em suas múltiplas intersecções com outros marcadores sociais da diferença (classe, sexo, gênero, orientação sexual, origem geográfica, território, geração, etc) é, portanto, central no Brasil. Após cinco séculos, não resolvemos ainda essa questão vital para o País. Temos uma maioria negra (56% da população) completamente excluída dos espaços de poder, nascendo e vivendo mal, sendo majoritariamente encarcerada e morta. Os números relativos à segurança, moradia, (des)emprego, condições básicas de infraestrutura, saúde, educação e de acesso à cultura e à ciência (escolas, museus, cursos de línguas, planetários, observatórios, museus de ciências) são brutais para a população negra brasileira. O genocídio negro em curso se materializa na estatística (pouco refletida) de que um jovem negro é morto no Brasil a cada 23 minutos.
Dito isso, a dimensão do racismo na sociedade brasileira é aguda, profunda, visceral. Ele é subjetivo, institucional e estrutural. Não só na Universidade, mas como em outras instituições de poder, o racismo se expressa de forma explícita (nas relações cotidianas com os pares, estudantes, técnicos e terceirizados; nos olhares e nos dizeres do dia a dia, nas agressões verbais) e implícita (sabotagens, isolamentos, depreciações, etc). Historicamente, os corpos negros têm sido retirados desses lugares de poder. E a ciência e o conhecimento são ferramentas poderosas de poder.
As universidades nunca foram pensadas para abrigar os corpos e as mentes negras. O racismo cognitivo (epistêmico) subalterniza e hierarquiza conhecimentos que são produzidos fora do eixo Europa-EUA. Ele não leva em conta saberes/tecnologias tradicionais dos povos das florestas e quilombolas; tampouco reconhece a contribuição, por exemplo, de povos africanos para a construção da história, da cultura e do desenvolvimento científico e tecnológico. É o racismo epistêmico que desapropria particularmente corpos negros do lugar central de exercício de pensamento. O racismo epistêmico é, talvez, umas das formas mais perversas do racismo no Brasil e no mundo, basilar na construção do conceito moderno e contemporâneo de ciência.

Sul21: Em uma live realizada pela Adufrgs na última sexta-feira, você falou que, além do problema do negacionismo científico e da proliferação de ideias como o terraplanismo, há uma outra questão a ser enfrentada que é a do racismo científico. Como é mesmo que o racismo se expressa dentro da ciência?
Alan Alves Brito: O racismo científico é uma pseudociência. No entanto, como sistema, ele foi essencial para retirar os corpos negros do lugar de protagonismo da construção da ciência e da tecnologia no Brasil. Defendido por cientistas (Nina Rodrigues, por exemplo, no Brasil), filósofos (Hegel, entre outros) e tantos pensadores dos séculos 19 e 20, o racismo científico está na base das muitas políticas de exclusão dos negros dos lugares de poder (o acesso à escola, por exemplo) e também na explicação, em partes, da subrepresentação de pessoas negras em carreiras científicas.
A associação (e construção social) de pessoas negras aos trabalhos manuais, à dança e ao futebol tem, em sua história (o que é pouco discutido e lembrando), muito a ver com as bases do racismo científico ainda impregnado no imaginário social brasileiro. O racismo científico fomentou e justificou a ideia de que o pensamento é dado às pessoas brancas que, além de universais, são superiores às pessoas negras. Aos corpos negros restou apenas a hiperssexualização e a desumanização de suas subjetividades.
Não podemos esquecer que a ciência (seja em museus de ciências, faculdades de Direito ou escolas de Medicina), que é fundamental para desarticular e combater desigualdades, também ajudou, historicamente, a construir o estereótipo de que negros não pensam. O racismo científico, como uma tecnologia social de poder na encruzilhada do colonialismo, do capitalismo e do patriarcado, está, portanto, na base do conceito moderno e contemporâneo de ciência.
A UFRGS, por exemplo, é 95% branca. Na Sociedade Brasileira de Física negros/as são 25% (esse número baixa drasticamente nos níveis de mestrado e doutorado). Na Academia Brasileira de Ciências não há registros raciais, mas basta uma consulta rápida no sítio web da ABC e as fotos de seus membros(as) permanentes denunciam o apartheid racial científico do País.
Em muitas universidades somos entre 1 e 16% dos docentes/pesquisadores/as. Faltam negros no Judiciário, no Direito, nas carreiras científicas e tecnológicas, na política, na educação básica (docentes). Nos sistemas de bolsas de produtividade ou de pesquisa dos órgãos federais e mesmo nas iniciativas privadas de fomento à pesquisa e à divulgação de ciências também somos minoria. A subrepresentação de pessoas negras nesses espaços de poder é uma marca profunda de como o racismo funciona na ciência. Ele tem retirado os corpos negros desses lugares. A escola pública brasileira, por outro lado, é frequentada majoritariamente por pessoas negras, o resto já sabemos a história.
Sul21: Como é que a Astronomia entrou na tua vida e como foi sendo construída a ideia de trabalhar nessa área do conhecimento, com o desenvolvimento de outras narrativas?
Alan Alves Brito: A Astronomia entrou na minha vida quando eu tinha 8 anos de idade. Mais ou menos com essa idade, no interior da Bahia, eu decidi que seria cientista e astrônomo. Foram anos de muita dedicação, luta e resistência que, sem políticas públicas (educação pública e gratuita, sobretudo) eu não teria conseguido. Após anos de estudos em Física (graduação na UEFS) e em Astrofísica Estelar (mestrado e doutorado na USP) e anos de pós-doutorado no Chile e na Austrália, retornei ao País em 2014 para assumir, por concurso público (1o lugar), o cargo de professor e pesquisador no Instituto de Física. Desde então tenho me dedicado ao ensino, à pesquisa, gestão e divulgação de Física e Astronomia, preocupado também com as questões étnico-raciais, de gênero e suas intersecções nas ciências.
A Astronomia é uma ciência interdisciplinar. Além disso, sempre me foi dito, ao longo da minha trajetória, que a ciência não era o meu lugar. Como eu sou teimoso, aqui estou. Sempre tive muito certo que a minha trajetória era muito diferente da esmagadora maioria dos meus pares. Que o meu corpo era/é um corpo em diáspora, atravessado pelas questões raciais, de gênero, de classe e de origem geográfica (nordestino no Brasil, sobretudo em certas latitudes, é gente de segunda classe).
Venho de uma família extremamente pobre e que nunca teve acesso (gerações) à educação formal e, muito menos, à universidade e, muito pior, a um curso de doutorado e estágios de pós-doutorado. Como egresso do sistema público de educação do Brasil eu sempre considerei que precisava fazer mais do mesmo. Ouvi, um dia, de uma quilombola, que há portas que só se abrem do “lado de dentro”. Eu estou do “lado de dentro” e tenho a potencialidade de transformar estruturas.
Kabengele Munanga, uma dos intelectuais vivos que mais admiro, nos lembra que intelectuais se preocupam com questões estruturais. Então é nisso que estou. O País pede muito mais de mim. Como servidor público trabalho para o País. Além disso, com toda a minha trajetória, não posso fazer Astrofísica, uma das minhas grandes paixões, apenas olhando para as estrelas. É preciso olhar à minha volta, para os meus. E fico muito feliz que a Astrofísica me permita fazer tudo isso, unir mundos que aparentemente estão apartados. Não estão. A Astrofísica me dá uma responsabilidade cosmológica e a ciência é uma construção coletiva, carregada (ou pelo menos deveria ser) de humanidade.

Sul21: A sua área de pesquisa é a Astrofísica Estelar. Há uma ideia dominante na comunidade científica de que há áreas do conhecimento que são imunes a questões como racismo, machismo e outras formas de conhecimento. Que não haveria modos diferentes de abordar determinadas questões em função de fenômenos sociais. Como você vê esse tema?
Alan Alves Brito: Essa ideia de que a ciência é pura, neutra, ingênua, ateórica, ahistórica, apolítica e pouco dependente das questões econômicas, sociais e culturais, é conversa de gente privilegiada que sempre teve assegurado para si (e para o seus) os privilégios que a sua posição (e sua ancestralidade branca) lhes garantiu. Essa negação da realidade excludente da ciência é, a meu ver (sou eu que estou dizendo isso), uma das facetas do que Cida Bento, intelectual negra, chama de “pacto narcísico da branquitude”. Há um pacto em torno do silêncio quando está em jogo a discussão racial no Brasil, silêncio esse que asfixia (os joelhos materiais e simbólicos) e que precisa ser rompido.
A verdade é que as ciências, sobretudo as ciências exatas, são dominadas e esmagadoramente representadas pelo pensamento dos homens brancos, cis, heterossexuais e bem nascidos do Sul e do Sudeste. Não é opinião. São as evidências, os dados. Acabamos de publicar um artigo mostrando isso, para a Física, e há inúmeros outros trabalhos mostrando essa realidade para o mundo (e para outras áreas). Precisamos, coletivamente, olhar para esses números, questioná-los, transformar a realidade.
Ciência com diversidade garante um outro tipo de inovação. Ciência com as pessoas e com a “maioria silenciada”, como nos lembra Lélia Gonzalez. O racismo, sobretudo na ciência, tem sido uma potente tecnologia social de controle e domínio onto-epistemológico. Precisamos entender como se dá a “racialização da ciência”. Esse é um lugar, um território tenso de disputa no País do século 21 que queremos e precisamos construir.

Sul21: Você lançou dois livros de divulgação científica. Poderia falar um pouco sobre eles? Em que medida, em “Antônia e a caça ao Tesouro Cósmico”, os temas da divulgação científica e da questão racial no Brasil se cruzam?
Alan Alves Brito: “Antônia e a Caça ao Tesouro Cósmico” (Editora Appris, 2020) é um texto de ficção literária e de cunho de divulgação em ciências (Física, Astronomia, História da Ciência), com foco em pessoas maiores de 10 anos. Ele traz Antônia, uma menina negra do Brasil profundo (que fala oxente, mainha, painho) e que tem altas habilidades. No livro, Antônia nos conduz à uma caça por tesouros cósmicos e, nessa aventura, outros mundos possíveis são apresentados.
A diversidade, a desigualdade, o racismo e o preconceito são temas presentes. Antônia tem ainda, numa história infantil que apresento como bônus ao final do livro, o cabelo que carrega os segredos do Universo. Antônia tem uma autoestima que acompanha a expansão acelerada do Universo. Sua sagacidade representa o quão belo e capaz é o povo negro que, apesar de tudo, “r(existe)”.
Quero, com esse livro, ajudar a fortalecer a educação antirracista, desconstruindo estereótipos arraigados no imaginário social brasileiro de que negros não pensam e não podem ser astrofísicos/as. Podemos ser o que quisermos, desde que o mito perverso da democracia racial e o pacto narcísico da branquitude sejam rompidos.
O outro livro, “Astrofísica para a Educação Básica: a origem dos elementos químicos no Universo” (Editora Appris, 2019), foi escrito em parceira com a professora Neusa Massoni, minha colega no Instituto de Física da UFRGS. É um belo trabalho de divulgação de ciências com foco em professores e estudantes da educação básica, estudantes de graduação e público geral. Trata-se de um livro que traz aspectos de Física Moderna e Contemporânea, Astrofísica, Química, História e Filosofia das Ciências, sem perder de vista as questões de representatividade.
Sul21: Você também desenvolve um trabalho junto a territórios quilombolas. Como é esse trabalho?
Alan Alves Brito: Eu tenho desenvolvido há três anos, com a Comunidade Quilombola Morada da Paz, o projeto Akotirene Kilombo. Trata-se de um projeto de empoderamento de meninas e meninos negros e diálogo intercultural entre as ciências e outras cosmologias racializadas. Uma das coordenadoras do projeto, quilombola e estudante de Ciências Sociais na UFRGS, é também minha estudante de Iniciação Científica no Programa Ciência na Escola, Ciência na Sociedade da PROPESQ/UFRGS. Temos feito muitos movimentos pensando a descolonização do conhecimento. É um projeto lindo, de interação universidade-escola-sociedade.
Mais recentemente idealizei e estou coordenando, no âmbito do NEAB (Núcleo de Estudos Africanos, Afro-Brasileiros e Indígenas) um projeto estrutural, ainda no começo, que envolve pesquisa pela promoção da equidade racial na educação escolar quilombola no Brasil e no Rio Grande do Sul. Esse projeto envolve colegas de diferentes áreas (ciências humanas, sociais e exatas), movimentos sociais, escolas, secretarias municipais e a secretaria estadual do Rio Grande do Sul. Estamos todos comprometidos/as com a luta antirracista no País e acreditamos que precisamos mover as estruturas.




















