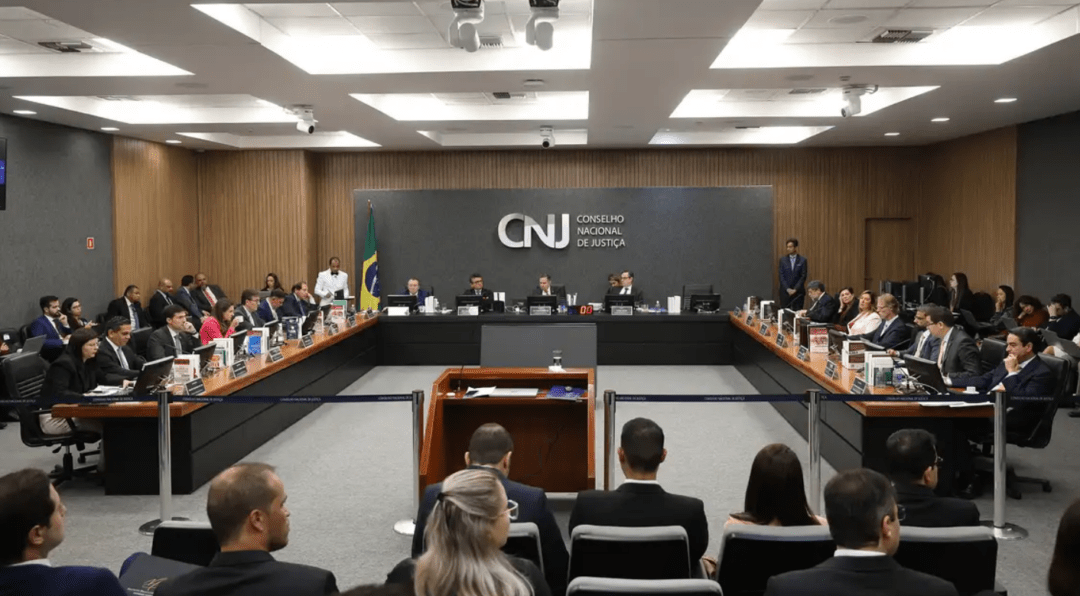Luís Eduardo Gomes
Um tiro nas costas encerrou a jovem vida de Ágatha Félix na noite do dia 20 de setembro. Aos 8 anos, ela voltava para casa, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, em uma kombi, acompanhada da mãe. A polícia militar disse que a menina foi baleada durante uma troca de tiros com assaltantes. Familiares e moradores da região disseram que não houve troca de tiros, que a bala que matou a menina veio dos policiais. Um dos primeiros ativistas a denunciar a situação foi Raull Santiago. Também morador do Alemão, ele usou as redes sociais para alertar sobre o episódio.
Em conversa por telefone com a reportagem do Sul21 na última semana, Raull relata como tem sido a realidade na favela desde que o governador Wilson Witzel (PSC) assumiu o poder em janeiro e autorizou o aumento das operações policiais em regiões sob o domínio de facções criminosas. Uma medida que tem como saldo o aumento de pessoas mortas pela polícia. Somente crianças, como Ágatha, foram cinco mortas por “bala perdida” durante as operações. Witzel se defende dizendo que, de forma geral, os indicadores de violência têm caído em 2019 e que, por isso, as operações vão continuar, como se as mortes fossem danos colaterais necessários.
Empreendedor social e ativista, Raull é seguido por dezenas de milhares de pessoas nas redes sociais. Somente no Twitter, espaço que usa para denunciar a violência de operações policiais, como o sobrevoo de helicópteros dos quais muitas vezes são efetuados disparos em horários de entrada e saída de escolas na comunidade, são mais de 30 mil. Para ele, a morte da Ágatha deveria ser um momento de pausa, em que a sociedade deveria refletir sobre o tipo de política de segurança que está sendo adotada e o que poderia ser construído no lugar. Mas ele é cético de que isso possa acontecer.
“Eu tenho 30 anos de favela, há 30 anos eu moro no Complexo do Alemão e, nesses 30 anos, a principal política pública que veio e continua vindo para nós é a operação policial. Ou seja, a militarização, a criminalização, a violência construída e direcionada para esse lugar como principal política pública. Há 30 anos é igual, morreram policiais, morreram jovens que se envolveram com o tráfico, morreram pessoas no meio disso tudo, continuaram morrendo outros policiais, continuam morrendo pessoas nesses 30 anos e não existe uma faísca de possibilidade de se estar construindo algo diferente”, diz.
Para Raull, essa é uma realidade que tem como um de seus elementos centrais o racismo. “A gente passou pelo período de colonização exploradora, passamos pela escravidão, pela ditadura e hoje a gente está no período de guerra às drogas como uma ferramenta de manutenção de racismo e controle militarizado e violento de pessoas que vivem na realidade que eu vivo”, afirma.
A seguir, confira a íntegra da entrevista com Raull Santiago.

Sul21 – Qual é a tua percepção sobre o aumento de episódios de balas perdidas e mortes pela polícia no governo de Wilson Witzel?
Raull Santiago: Eu acho que isso aumentou de fato. Não só acho, na verdade tenho certeza. Quando a gente vê, por exemplo, a quantidade de operações utilizando helicópteros. Aumentou muito a presença de helicópteros, não só monitorando operações na favela, como efetuando disparos diversos em diferentes operações em comunidades com o Jacaré, o Complexo do Alemão, a Cidade de Deus. Eu vejo que aumentou bastante não só o armamento no chão, na operação em si, mas também a partir do disparo feito por policiais dentro de helicópteros.
Sul21 – Como é a rotina de operações no Complexo do Alemão?
RS: O Complexo do Alemão é muito grande e normalmente acontecem confrontos em algumas das várias localidades que compõem a favela. Só que eu acredito que hoje em dia, no dia de semana, no dia útil, ao menos três vezes por semana está tendo algum tipo de operação. Seja a entrada de efetivos policiais, seja a entrada de um blindado que vem, fica meia hora, uma hora em algumas áreas e vai embora, seja uma passagem de helicóptero, pelo menos três vezes por semana tem acontecido algumas micro operações nas últimas semanas. E também tem se intensificado essas ações em algumas favelas específicas, como a Cidade de Deus, o Jacarezinho, o Alemão e o Complexo de Acari, que tem recebido operações de forma constante desde a virada do ano, do governo Witzel assumir o Rio de Janeiro. Além de não fazer sentido do porquê estão acontecendo essas operações, de qual o objetivo, do que está transformando a segurança pública do País, também são operações em horários conflituosos. Normalmente são feitas em horários escolares, por volta das 7h, meio-dia, 17h, quando tem um grande fluxo de pessoas, entre elas muitas crianças e jovens, indo e voltando das suas escolas.
Sul21 – Essa realidade da polícia usando armamentos pesados, helicópteros, é diferente no Rio em relação a outras capitais, mesmo sendo locais tão ou mais violentos. Porto Alegre, por exemplo, tem uma taxa de homicídios superior ao Rio, mas não possui o mesmo tipo de confrontos diários nas favelas e na periferia. Tu poderia fazer um relato de como o dia a dia das pessoas é afetado por essas operações?
RS: Cara, eu acho que não tem nada como o Rio de Janeiro. Não só no Brasil, como em poucos lugares do mundo. O que se vive no Rio de Janeiro equivale a conflitos civis gigantescos. E vale recortar ainda mais que a gente está falando de um Rio de Janeiro periférico, um Rio de Janeiro suburbano, um Rio de Janeiro que não é total da cidade, mas em áreas específicas, onde na construção de uma ideia de segurança pública que não é para todas as pessoas, mas com recorte racial e social. As operações com helicópteros efetivando disparos, as ações com carros blindados adentrando becos e vielas das favelas, vão acontecer das fronteiras das favelas para dentro. Mas quando a gente fala das maiores apreensões de fuzis no Rio de Janeiro, elas acontecem no aeroporto ou em um bairro suburbano, onde uma pessoa ligada ao policial Ronnie Lessa, que também é acusado de ser o assassino, o mandante ou um dos organizadores do assassinato da Marielle Franco. E, nesses lugares, as operações não tiveram o nível ou o padrão que é aceitável no imaginário da sociedade de como a polícia deveria entrar dentro de uma favela. E isso impacta a rotina como um todo, porque, quando você tem uma operação policial, quando inicia-se um confronto, os comércios perdem o movimento, escolas não conseguem seguir com seu plano de aula, às vezes o posto de saúde não consegue fazer seus atendimentos. Aí tem casos específicos que surgem aos montes como a da pessoa que tinha consulta marcada, demorou meses para marcar e não conseguiu chegar, transformador de energia elétrica que foi atingido por disparo de arma de fogo, o comércio naquele dia não conseguiu abrir e tinha produtos que precisam ficar refrigerados que acabaram estragando. Então, para além da violência direta, do risco iminente de você ser atingido por uma arma de fogo, também tem as várias outras consequências que interferem na rotina do seu dia a dia, como, por exemplo, não conseguir sair de casa para estudar ou para ir ao trabalho, ou até conseguir sair e descobrir lá na entrada da favela que a linha de ônibus não está passando porque a rota foi alterada pela situação de conflito que está acontecendo. Então, são vários fatores que interferem todos os dias na dinâmica e na rotina de uma população específica, o que constrói cada vez mais um distanciamento e a desigualdade no acesso a oportunidades, no acesso a perspectiva, no acesso a sonhar com a transformação de quem vive em lugares como o que eu vivo em relação à sociedade como um todo.
Sul21 – Tu tem um posicionamento de que essa guerra às drogas é inútil. Tu acredita que esse tipo de ação é feita pelo valor simbólico que ela traz e que o governador tem aumentado essas ações para mostrar serviço para uma população que pedia ações mais enérgicas? Como que tu vê esse caráter simbólico desse tipo de ação?
RS: Eu acho que o Witzel não tem um plano de segurança. A prática do que ele faz todos os dias mostra que não existe um plano de segurança. Não faz sentido um plano de segurança quando a gente vê o assassinato da Ágatha, do Kauê, das cinco crianças vitimadas durante operações policiais. Então, eu acho que é para manter um discurso inicial e também surfando numa onda de capitais, como o Rio de Janeiro, onde a desigualdade social é muito presente. Então, a classe mais abastada, para se sentir segura, precisa ver algo prático acontecendo. E essas práticas acabam sendo as inserções violentas dentro das favelas e em espaços como o Complexo do Alemão, onde eu vivo. Eu acho que a simbologia é essa, a simbologia de mostrar algo visual, como entrega de ‘olha como eu estou construindo segurança pública’, mesmo sabendo que, de fato, não tem uma proposta de médio e longo prazo, nem de curto prazo, até porque os dados resultantes desse processo muitas vezes trazem um saldo totalmente negativo. Quando a gente fala das 16 crianças atingidas e das cinco mortas, dos 46 policiais assassinados, da quantidade de pessoas atingidas por bala perdida, o saldo humano é muito absurdo comparado a o que se aprende em questão de drogas e armas. Então, eu acho que é simbólico nesse sentido, é uma ação de enxugar gelo, de que precisa mostrar que está fazendo algo, mesmo que não saiba qual é o resultado. Só vejo como a manutenção de um discurso sem ter uma prática transformadora de fato. E, na nossa realidade, a manutenção desse discurso traz resultados duros e dolorosos na prática da favela.
Sul21 – Claro que não se pode responder pelos outros, mas tu avalia que esse aumento da violência policial tem provocado, de alguma forma, uma reação diferente da comunidade em relação a anos anteriores? Gerou revolta ou também tem parte da comunidade que apoia esse tipo de ação?
RS: Acho que tem todo o tipo de opinião dentro das favelas, porque existem diferentes formas de experimentar a favela. Eu como jovem que faz trabalho aqui dentro o tempo inteiro, eu vivencio muito mais coisas, por exemplo, do que um familiar ou alguém próximo que tem um trabalho em que tem que sair de casa às seis horas da manhã, volta dez horas da noite e não vivenciou o dia a dia da favela. Eu acho que isso constrói linhas diversas de pensamento. Então, tem pessoas que discordam, tem pessoas que concordam, mas eu acho que, quando uma criança é atingida, assassinada do forma como foi, isso gera uma comoção geral na prática de perguntar o que é de fato segurança pública, para quem que tem servido esses processos e como a gente constrói algo diferente a partir do fato acontecido.
Sul21 – Tu tem chamado a atenção nas redes sociais para o fato de que esse tipo de operação não tem acontecido em áreas dominadas pela milícia, que é uma atividade criminosa. Há essa percepção no Rio de que a milícia é protegida pela polícia?
RS: Muito boa essa pergunta e antes de respondê-la, eu vou deixar como fala central da resposta que vai vir a seguir que falar sobre isso é muito arriscado. Não só para mim, mas para qualquer pessoa que vai falar sobre o tema de milícia, é um grande risco no Rio de Janeiro. Para quem vive na nossa realidade, esse é o clima. Então, a milícia é presente, ela é uma grande força, ela está em espaços diversos como a dominação de territórios de periferia, mas também em espaços de poder, em espaços de tomada de decisão sobre a nossa realidade. Então, ela é uma força não nominável, é uma força da qual as pessoas evitam falar. E as pessoas que vivem em áreas dominadas por milícia — eu não vivo em área dominada por milícia, onde eu vivo é dominado por uma das facções criminosas do Rio de Janeiro — tem muito menos atividades sociais e alcance de voz de ativistas que fazem trabalhos como o meu.
Respondendo a pergunta, é geral a sensação de que, sim, há uma presença da milícia ligada diretamente a diferentes estruturas de poder, como o poder político, como a própria polícia, como às próprias instituições e órgãos públicos que deveriam garantir a segurança, mas muitas vezes estão inseridos também dentro desse meio. E os números acabam tendo a maior relevância, ou o silenciamento desses números, como a quantidade ínfima de operações em áreas dominadas por milícias. Por exemplo, na Praça Seca, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro, houve confrontos no início do ano e no final do ano passado entre milícia e facções criminosas e também tinha operações policiais. Depois que a milícia dominou de vez o território após enfrentamento com as facções criminosas, acabaram as operações naquele espaço. O mesmo vem acontecendo em outras favelas. Grandes regiões do Rio de Janeiro, como Campo Grande e Santa Cruz, são áreas em que hoje quase não existe mais favelas sob o comando de facções criminosas padrão, mas facções de milícias formadas por ex-policiais, jovens que entraram em grupos que acabaram se envolvendo com esse novo poder, e você não vê acontecer nada nessas regiões. Fica muito concentrado em grandes redutos de facções criminosas com ampla visibilidade, como o Complexo do Alemão, como a Cidade de Deus. Então, assim, há a sensação geral, há a conversa de todas as pessoas nas entrelinhas, mas pouca gente expondo isso de forma pública pela gravidade do que a gente tem vivido aqui no Rio de Janeiro.

Sul21 – Tu falou que é perigoso falar sobre isso. Como é para ti, como ativista e um crítico da atividade policial e das milícias? Tu recebe muitas ameaças?
RS: Então, eu faço parte de um coletivo chamado Papo Reto, que faz esse trabalho de monitoramento de violência, de denúncia mais aprofundada, tentando construir dados e outra narrativa sobre as violências que a gente vive ao longo da história nas favelas e periferias. Tem pessoas do Papo Reto que acabam sendo muito visadas. Eu sou uma dessas pessoas. Ao longo da existência do grupo, muitos de nós integrantes já recebemos diferentes tipos de ameaças. Ameaça verbal, ameaça constante por policiais da UPP, ameaças online, mensagens falsas, vários formatos. São diferentes tipos de situação, mas depende muito também do que a gente está fazendo. Quando a gente está denunciando algo incisivo, algo que a gente está em cima, está apresentando denúncia, está puxando audiência pública, está fazendo matéria constantemente, marcando aquela situação, normalmente nesses períodos aumenta também o nível de ataque. Mas a rotina do dia a dia acaba sendo mais de questões online, ataques de perfis fake, mensagens falsas em redes sociais, às vezes trazendo até informações exatas sobre os integrantes do grupo, informações pessoais que nem todo mundo tem, mas muito nesse campo mais da mensagem online. Ao vivo, vem de policias ou políticos que, inclusive, a gente já conseguiu afastar da função que ocupavam. Enfim, foram durante os processos de ação direta para tentar provar alguma denúncia que a gente estava querendo expor.
Sul21 – Na tua avaliação, essa reação que tem surgido ao aumento da violência policial no governo Witzel ajuda a construir uma narrativa de que é possível ou seria preciso ter outro tipo de política de segurança, ou tu acha que ainda está bem distante disso?
RS: Cara, eu vou te falar muito sinceramente agora, numa opinião ultra pessoal, eu não acredito que o que está acontecendo agora no governo Witzel seja qualquer ideia aproximada de segurança pública. Eu até comentei isso nas redes sociais esses dias, eu não acho que existe a parte pública quando a gente pensa segurança no Rio de Janeiro ou no Brasil. A justificativa das ações policiais sempre é a repressão ao tráfico de entorpecentes, às armas ilegais. Só que essas drogas e essas armas estão em todas as partes da sociedade, porém há um recorte único, de locais específicos, onde a operação vai acontecer, que são as favelas e as periferias. Então, eu não acho que exista segurança pública no Rio de Janeiro. Não acredito que a gente esteja se aproximando da construção de uma ideia de segurança pública, porque, quando uma criança morre como a Ágatha foi assassinada, como as cinco crianças foram assassinadas recentemente, eu acho que a gente não chegou nem perto de uma ideia de segurança pública que deveria ser inclusiva, garantidora de direitos, garantidora de vida, que tenha abrangência coletiva, onde o cuidado com a vida, com as pessoas, devesse partir de um olhar de acolhimento pelo todo. Isso não acontece. O que a sociedade que não vive dentro da favela recebe como segurança pública é diferente do que quem vive na favela recebe. Na minha leitura, quando a sociedade, a elite, as pessoas que vivem uma realidade de privilégio clamam por segurança, a prática da construção de segurança pública para essas pessoas se dá com as operações policiais dentro da favela. Então, eu acredito que a gente vive numa sociedade, ainda hoje, onde nós moradores e moradoras de favela não somos vistos como cidadãos plenos de terem os seus direitos assegurados, inclusive o direito a uma segurança pública. Muitas vezes ainda somos colocados como as pessoas que não permitem a existência de uma segurança pública porque somos o inimigo. Acho que a gente está muito distante, discursos como o do Witzel incentivam a violência policial. Ele passou aquele decreto para poder tirar da contabilização da polícia do Rio de Janeiro as violências cometidas por policiais, os assassinatos cometidos por policiais. Isso não entra mais como um dado, isso não conta mais, é um decreto imediatamente colocado em prática pelo Witzel após a entrevista sobre o assassinato da criança Ágatha aqui na favela, na qual ele disse que está correto, que ele acredita que esse é o processo, que essa é a forma de agir. Após afirmar que ele acredita no que está fazendo, o que culminou no assassinato de uma criança, ele lança um decreto em que ele tira da contabilização dos dados sobre segurança pública as violências, excessos e outras coisas cometidas pela polícia. Então, cada vez mais, eu penso que a ideia de segurança pública não inclui pessoas como eu, como a minha família, como os meus filhos, como os meus vizinho, como a realidade de quem vive dentro da favela.
Sul21 – Em que medida tu acha que o componente racial não só pesa para que exista essa violência estrutural, mas faz com que não se consiga construir uma alternativa a isso?
RS: Sem dúvida, eu acho que o componente racial é a questão central de todo esse processo. Quando a gente ouve insistentemente de políticos, na comunicação da polícia, jornalistas dizendo que a operação foi por conta de uma repressão ao tráfico de drogas, de uma guerra às drogas onde somente na favela acontece essa violência, eu vejo a frase guerra às drogas como a nova ferramenta de manutenção de racismo e de desigualdade na nossa geração. A gente passou pelo período de colonização exploradora, passamos pela escravidão, pela ditadura e hoje a gente está no período de guerra às drogas como uma ferramenta de manutenção de racismo e controle militarizado e violento de pessoas que vivem na realidade que eu vivo. Eu acho que a questão racial é central, dada a quantidade de pessoas presas por micro tráfico, em prisões forjadas ou que ainda nem foram a julgamento, são presos provisórios, e a quantidade de pessoas assassinadas. Nessa quantidade de pessoas assassinadas na atual ideia de guerra às drogas, eu incluo todo mundo que morre ou é vitimado nesse processo. Seja o jovem que acabou se envolvendo com o varejo das drogas, pegou uma arma para tentar fazer sabe-se lá o que ele acredita, sejam crianças e pessoas diversas como a Ágatha no meio disso tudo, e também policiais. Quando a gente pensa essa estrutura do que é essa guerra às drogas, as pessoas que vão morrer ou que vão matar são as mesmas. Pretas, periféricas, faveladas, uns com farda, uns sem, outras no meio. No campo do serviço público, o policial é a única pessoa que está suscetível a matar ou morrer de toda a escala do que é ser um servidor público no Rio de Janeiro e no Brasil. Não é o assessor parlamentar, não é o vereador, não é o deputado, salvo a Marielle, vereadora assassinada de forma brutal, mas não é o padrão, não é o processo comum. Quem está para matar ou morrer é o policial, que, em tese, vem também desse lugar periférico, favelado, preto em sua maioria. Então, na estrutura de guerra às drogas, o racismo é central, porque, independente dos lados de quem está atirando ou de quem está no meio, as pessoas têm a mesma cor, têm o mesmo endereço, têm a mesma realidade de conta bancária.
Sul21 – Gostaria de acrescentar algo?
RS: Eu só penso que, quando acontecem situações como essa que aconteceu do assassinato da Ágatha, a sociedade deveria pegar esse processo e parar com qualquer ideia que a gente tenha pró ou contra o que foi construído. Quando a gente chega numa linha em que uma criança de oito anos leva um tiro nas costas e morre de forma tão brutal, aquilo ali deveria ser uma pausa, um ponto e vírgula para todo mundo repensar o que está se construindo enquanto segurança pública e avaliar que não deu certo, pensar novos formatos. Eu tenho 30 anos de favela, há 30 anos eu moro no Complexo do Alemão e, nesses 30 anos, a principal política pública que veio e continua vindo para nós é a operação policial. Ou seja, a militarização, a criminalização, a violência construída e direcionada para esse lugar como principal política pública. Há 30 anos é igual, morreram policiais, morreram jovens que se envolveram com o tráfico, morreram pessoas no meio disso tudo, continuaram morrendo outros policiais, continuam morrendo pessoas nesses 30 anos e não existe uma faísca de possibilidade de se estar construindo algo diferente. Então, eu acredito que, mais do que nunca, ainda mais nesse cenário em que a gente está, é o momento de repensar o que é segurança pública e, a partir disso, tentar construir algo que seja inclusive garantidor de direitos e vidas, e não mais de fatos como Ágatha, Kauê, Kauan, Jenifer e todas as crianças assassinadas nesse ano.